Leia os primeiros capítulos do livro "A Outra Praia", de Gustavo Nielsen
Capítulo 1
— Quem é?
No slide, aparecia uma mulher de uns quarenta e
cinco anos, tingida de louro, com olhos de quem sai em
viagem pela primeira vez. Olhava para a câmera. Uma de
suas mãos agarrava uma tábua de passar roupa; a outra
estirava as pernas de um par de calças. O quarto era pintado
de verde.
As calças eram do homem gordo. Saía muito alto
nas fotos (talvez fosse realmente alto) e lhe agradavam
os cinturões de grandes fivelas douradas como o do slide
anterior. Os espectadores já sabiam que o homem tinha
um Renault Dauphine, uma testa que se alargava na calvície
e uma carteira cheia de dólares, da qual a mulher
tingida de loiro tinha obtido vários primeiros planos.
— Como se chamam? — perguntou Antonio.
— Cacho e a tia Alicia.
— De verdade?
— Pusemos assim.
O diapositivo seguinte mostrava-os juntos e com as cabeças recortadas. O cenário era uma praia. Deveriam
ter colocado a câmera no automático sobre o teto do Renault.
Faziam um esforço para entrar no quadro, sorrindo
como crianças. Haviam tirado as camisetas; o homem
tinha um pelo denso no peito, que lhe chegava até os ombros;
a mulher, uns seios pequenos sustentados por um
sutiã vermelho. Uma margaridinha de plástico unia os
dois triângulos do sutiã.
— Não há jeito de saber como se chamam — acrescentou
Zopi.
Pareciam felizes dentro de sua viagem, ao menos
mais felizes do que as quatro pessoas que olhavam os slides
e comiam bolachinhas com cream cheese: Antonio,
Marta, Sara e Zopi.
— Não percam essa — disse Sara, a esposa de Zopi,
uma morena mirrada com cara de sono. Apontou para a
tela: — É nossa foto favorita.
O Renault Dauphine estava parado no meio do caminho
em um bosque. Os troncos quase encostavam no
carro. O caminho estava coberto de folhas de pinheiro.
O casal havia descido do carro; o homem posava parado
detrás da porta aberta do condutor. Apoiava um cotovelo
sobre o teto e o outro no canto da porta. Unia suas mãos
à altura do peito, tapando uma medalha que logo se veria
no slide seguinte. A medalha pendia de seu pescoço por
uma grossa corrente dourada.
— Tem sandálias Adidas — disse Zopi.
O homem estava muito erguido, como se exagerasse
sua grande altura. Cruzava a perna esquerda sobre a direita
e dobrava uma sandália contra as folhas de pinheiro.
As pernas também eram peludas. Estava relaxado. Mais
relaxado do que os quatro que o olhavam incansavelmente
enquanto comiam as bolachinhas. Quando Sara quis
passar adiante o diapositivo, Zopi lhe pediu que o deixasse
mais tempo.
— Já não se conseguem mais essas sandálias — completou.
— Será Cariló? — perguntou Marta, a mulher de
Antonio.
— Não.
Sara fez uma careta com seu lábio inferior, como que
reafirmando o pouco que sabiam. Soou a campainha. Ela
levantou para atender.
— É a pizza — disse, voltando do porteiro eletrônico.
Trazia uma nota dobrada na mão e uma moeda para a
gorjeta. — Eu desço.
Quando entrou outra vez na sala de jantar, seu marido
havia passado adiante o slide. Agora, havia um morro
verde em um céu cinzento; Sara sabia que essa era a primeira
de uma larga série de paisagens. Zopi passou várias
rapidamente.
— É o Brasil, veem? — se deteve num cartaz escrito
em português. — Curitiba, ou algo assim.
Em quase todas as fotos aparecia um dos dois. Ela sorria
mais, porque tinha a dentadura inteira. Ele a enquadrava
sempre no meio, às vezes não fazia foco ou movia a câmera.
Invariavelmente, lhe cortava a coroa dos cabelos loiros.
Sara levou à mesa guardanapos de papel e garrafas.
Abriu as caixas com as pizzas. Serviu as porções sem
olhar para a tela.
— Essa que vem é a minha favorita especial — disse
Zopi, para diferenciá-la da favorita de ambos. Espiava as
imagens no carrossel do projetor, levantando-as do carretel
antes que fossem projetadas. — Imperdível — acrescentou.
O homem estava sentado. A pança lhe saía como
uma bola maciça, desde o elástico do calção. Tinha cara
de recém-acordado, ainda que já tivesse pendurado o
medalhão no peito. Sobre uma mesinha baixa havia um
copo e uma medialuna mordida. O sol que refletia no
medalhão impedia de ver a inscrição. Zopi disse:
— “Campeão de natação. Colégio San José de Moron,
quinto ano B, turno da tarde”. Não vou tirá-la nunca
mais, ele prometeu ao seu treinador. Cacho está no mundo
para cumprir sua promessa.
— Se é que está — acrescentou Antonio, com um
sorriso.
Para Zopi e sua mulher, os donos da casa, essa era a
primeira vez que Antonio sorria ao longo da noite. Para
Marta, a primeira vez ao longo do mês.
Zopi fez um sinal com as mãos, como se afastasse a
ideia da morte. Sara disse que a pizza estava riquíssima
e ia esfriar. Havia de cebolas e de presunto e pimentões.
Serviu-se de Bidu Cola e ofereceu a Marta.
— Nesta casa, também não tomam Coca? — perguntou
Antonio.
Sara olhou para seu marido e repetiu a careta com o
lábio. Zopi sorriu, acariciou o pescoço de sua esposa e
respondeu negativamente, como se não soubesse do que
estavam falando ou não lhe importasse. Colocou o projetor
no automático. Eram centenas de fotos.
— Duas maletas cheias — explicou.
Sara havia comprado a primeira por cinco pesos
numa feira de Pompeya. Tinha ido buscar uma lâmpada
de três cones como a que aparecia no filme Se meu apartamento
falasse. Uma amiga havia conseguido lá esse tipo
de lâmpada. A lâmpada, não havia. Quando voltou para
casa com os slides, Zopi lhe jogou na cara que havia comprado
algo inútil e tolo. A quem poderiam interessar as
fotos de viagem de dois desconhecidos? Já era bastante
insuportável olhar as de um só.
Desde então, já as haviam passado mais de dez vezes.
Havia algo perverso em compartilhar essa viagem
com aquele casal. A paixão de Cacho por manter o carro
radiante correspondia à obsessão de Alicia pela roupa
extremamente bem passada. Fazia friso até nos jeans.
Haviam descoberto que Alicia sempre entrava na água,
houvesse sol ou não. Ele jamais o fazia. Sabiam que Alicia
se levantava mais cedo que Cacho: havia várias fotos dele
se espreguiçando ou tirando as remelas dos olhos. Ela
preferia as cores claras e os tecidos salpicados de lunares
ou flores. Ele, as listras verticais e o negro.
— Porque tem complexo de gordo — disse Sara.
Antonio, que era fotógrafo, fez o comentário de que
ela era melhor que ele na hora de apertar o disparador:
media a distância, atentava à luz, abria corretamente o
diafragma, compunha o quadro e provavelmente fazia
uma marca na areia para que ele se parasse nesse lugar.
— Cacho aprendeu para a segunda maleta — disse Sara.
Essa haviam comprado um mês depois. A amiga lhe
havia avisado que, no Exército da Salvação, havia visto uma lâmpada de pé muito parecida com a do filme. A
lâmpada tinha cinco pantalhas cônicas. “Se apresse”, lhe
havia dito. Ela se trocou e foi. Um cone era amarelo, outro
verde, outro vermelho, outro azul e o último alaranjado.
O vendedor, um tartamudo intratável vestindo um
macacão, desmontou a lâmpada para que entrasse num
táxi. Os cones verde e alaranjado eram postiços. Sara se
arrependeu: os agregados não lhe agradavam. O vendedor
protestou. Deixou o pé da lâmpada sobre uma maleta
igual à que Sara havia comprado na vez anterior.
— Que tem? — perguntou.
— Slides — disse ele, dispondo-se a ler o jornal.
Sara suspeitou que essa maleta ia custar-lhe mais.
Discutiu o preço. Insistiu que era igual em tamanho a
uma maleta anterior que havia comprado em outra feira
e que havia lhe custado cinco pesos. O homem não tinha
ganas de vender-lhe nada.
— Estou lhe tirando um incômodo. Quem pode
querer esses slides?
— Os donos — respondeu o vendedor, alçando de
ombros. — Os parentes dos donos.
“Eu não sou nenhuma das duas coisas”, esteve a ponto
de dizer Sara, mas sentiu que não valia a pena. Como
explicar-lhe o que haviam desfrutado inventando a vida
para esses dois desconhecidos?
Quando avisou Zopi por telefone, ele deixou de trabalhar.
Estava ansioso por saber como seguia a viagem.
Dirigiu tão rápido até sua casa que quase bateu o carro.
Sara já havia servido a mesa. O projetor estava entre a
saladeira e a garrafa de vinho.
— Cacho aprende a fotografar, sim, mas as novas fotos
não são interessantes — disse Sara.
— Há muito verde; são talvez mais... artísticas. Além
disso, repetem as roupas. E ele já tem vontade de voltar
para casa — acrescentou Zopi.
— É provável que tenha saudade dos filhos — disse
Marta.
— Como você sabe que eles têm filhos? — disse Sara.
— Tem? — perguntou Antonio.
— Mais adiante, aparece uma mão sustentando um
leque com fotos de crianças — Zopi começou a explicar.
— Dois meninos e uma menina. A mão é de Cacho; as
fotos estão amassadinhas, como que tiradas da carteira.
Não se pode saber quem é o mais velho dos três, porque
nas fotos todos têm entre quatro e cinco anos. Como
você se deu conta, Marta?
Ela não pôde responder porque estava mastigando
um pedaço de fainá. Antonio disse:
— A maioria dos casais, a uma certa idade, já tem filhos.
Eles tinham uma filha: Victoria, de vinte anos. Zopi e
Sara tinham uma menina de três anos e um garoto de seis.
— Volte para a anterior — pediu Antonio.
Zopi apertou o controle remoto do projetor.
— Essa foto está muito bem tirada. Veja que nitidez. E
o cachorrinho...
— Lhe dá um toque, não? Um algo... Essa do cachorro
é uma série bastante divertida — disse Sara.
— Há uma melhor, não? — perguntou Zopi, olhando-a.
— Mais adiante.
— Olhem a luz sobre a cara... bem — seguiu demarcando
Antonio. — Perfeitamente graduada. Além disso,
até conseguiu deixar bonito o gordo, não?
— O gordo é bonito — disse Sara, fazendo-se de
ofendida.
— Meio banhento ele, com esse medalhão no peito...
— Zopi se mostrou ciumento.
— Você é mais bonito — disse ela, pelo que recebeu
um beijo nos lábios. — Mas ele tem seu charme.
— Boas costas — agregou Marta —, bom lombo.
— Carne de exportação — disse Zopi. — A tia Alicia
também está muito comível.
— Eu não disse comível, você que incluiu isso — se
defendeu Marta.
— Você disse que tinha bom lombo — recordou Zopi.
— É tão masculino, com todo esse pelo no peito, tipo
Sandro... — intrometeu-se Sara para defender sua amiga.
— Se não tivesse Zopi, eu podia ficar com ele.
Todos fizeram silêncio.
— O gordo deve ser um tigre. Pelos sorrisos da tia,
digo.
A mulher mostrava sua dentadura. Atrás, havia uma
estátua de um menino ajoelhado. O cachorro lambia o
rosto da mulher. O homem não havia decidido se tirava
fora o cachorro ou a estátua, razão pela qual as duas situações
haviam saído cortadas.
— Teria que ver se ainda vivem, não? — insistiu Antonio.
Marta serviu-se de refrigerante.
— Deixe que vivam aí... Olha como estão felizes.
— Bem transados e descansadinhos — acrescentou
Sara.
— E bem comidos! — disse Zopi, depois de passar o
diapositivo. — Olhe o Cacho preparando o assado. Morcilhas,
vazio, isso... bom, não se vê bem.
— Deve ser uma moela — disse Marta.
— Ou o cérebro do cachorro. Vejam, aqui está a pica
do cachorro... — seguiu explicando Zopi.
— É uma salsicha — retrucou Sara.
— Ah, certo! Olhe só... pensei que era, assim, uma
pica...
Ela o golpeou carinhosamente.
— Pela cor rosada que tem o filme, parecem as revelações
de antes de 78 — disse Antonio. — Para o Mundial,
a Kodak importou para o país um novo químico que
evitava esse envelhecimento prematuro das cores. Veem
que os amarelos e os verdes estão quase iguais?
— Sim.
— É por isso. Se recordam dos filmes do início da
ditadura? Tinham o mesmo problema técnico.
Zopi voltou a colocar o projetor no automático e
aumentou a velocidade. Havia começado o segundo turno
das fotos, as que Sara chamava de artísticas. As fotos
mostravam cardos, pedras, flores, árvores, nuvens, pasto,
espuma. Era como se tivessem cansado de fotografar entre
si e começassem a buscar ao redor algo que valesse
a pena enquadrar. As imagens passaram rapidamente até
chegar à tela em branco. Sara trocou o carrossel por outro
e guardou o que haviam visto.
— Em alguma parte aparecia o ano, não, amor?
— Sim — respondeu Zopi. — Em um cartaz novinho,
de um projeto habitacional.
— 1977?
— 76.
Antonio afirmou com a cabeça e completou:
— É capaz que na volta os milicos os tenham limpado.
Zopi deixou sobre seu prato a borda mordida da última
porção de pizza.
— Deixe eu comer em paz — disse. Depois, o imitou:
— “É capaz que os milicos os tenham limpado”. O
que você quer? Que choremos?
Antonio fez uma cara de resignação. Disse:
— Você pensa que uns tipos como esses, que tiraram
cem fotos de umas férias baratas, doariam suas lembranças
ao Exército da Salvação? Só mortos.
— Cem, você disse? Trezentas e sessenta e sete... —
afirmou Sara.
— Mais ainda a meu favor. Olhe as caras que têm, o
carro, como se vestem, essa medalha ao valor por terem
entrado na classe média...
— Quem sabe se foram do país — delimitou Marta. —
E não iam ficar carregando maletas com slides. Deixaram de
presente para um parente que as vendeu por uns trocados.
Zopi e Sara assentiram. Preferiam acreditar na hipótese
da viagem, ou pensar que Cacho e a tia Alicia tinham
precisado mudar para um apartamento menor, onde não
cabiam as bugigangas. Ou que haviam se separado.
— Na pior das hipóteses, chegamos a acreditar que,
na segunda parte da viagem deles, haviam lhes roubado
o Renault Dauphine — disse Sara. — Veem que não sai mais e que ele está deprimido? Olhem seus olhos... Não
há uma foto melhor?
Zopi buscou, passando rápido, e voltou à foto anterior.
— Essa foi a máxima desgraça que chegamos a supor
para eles. E sequer serve, porque, no penúltimo slide, aparece
de novo o capô do Renault — completou Sara.
Coçou a cabeça, pensativa.
— Nos agradam muito assim, felizes... não, amor?
Zopi esvaziou seu copo de refrigerante e voltou a
servir-se.
— Nós os queremos assim — disse.
Para Antonio, no entanto, a perspectiva de que Cacho
e a tia Alicia já não existissem agregava às fotos um
estranho valor. Iluminados pela luz do projetor, aqueles
mortos haviam regressado à vida. Haviam aparecido. Antonio
preferia pensar-se mais como um ressuscitador do
que como o voyeur de um passado que o próprio dono
havia descartado por desinteresse.
Zopi se deteve numa foto em que Cacho lia o jornal.
— Conseguem ver a data?
— Ponha mais foco.
— Assim?
— Não se vê.
— Mas não pode. A tomada está ruim.
— Deixa eu ver? — perguntou Antonio.
Inclinou-se sobre o projetor. Girou o canhão milimetricamente
para a direita e logo para a esquerda. Moveu
a lente até que o periódico ficasse medianamente enfocado.
O ano do jornal não se conseguia ler.
— Seis de janeiro de...
— E não há mais dados — assinalou Zopi.
Antonio soltou o canhão do projetor. A tela esgazeou
os limites do homem sentado. Zopi não passou o diapositivo
até que o foco voltou.
— Desejo sinceramente que Cacho e a tia estejam
mais velhos que antes — mentiu Antonio, fazendo um
gesto a Marta. Pôs-se de pé.
— Oxalá — remarcou Zopi.
— Não tomam um café? Sobremesa não tem, mas
café... — convidou Sara.
— A falta de café nesta casa é motivo de divórcio —
acrescentou Zopi.
— Amanhã, tenho que levantar cedo — disse Antonio
— e estou dormindo pouco...
— Quando precisa revelar duas noites seguidas,
anda toda a semana grogue — acrescentou Marta. — E
quanto tempo faz que você vem neste dá-lhe que dá-lhe
todas as noites?
— Dez dias.
— E quando...? — Zopi fez um gesto a Marta como
que perguntando “quando transam?”.
Sara o golpeou com os quadris para que não fosse
grosseiro. Marta enrubesceu.
— No quarto escuro — disse.
Abraçou e beijou seu marido na bochecha. Quem
houvesse visto seus olhos poderia afirmar que estava
orgulhosa de Antonio. Mas ele pouco se importou com
isso. Sara olhou para Zopi e lhe disse:
— Quem sabe você troca as luminárias do quarto
por umas vermelhas, hein?
— Sim, amor — respondeu ele.
Marta e Antonio saíram. Na rua, fazia frio. Subiram
no carro. Quase não falaram em todo o trajeto até sua
casa, que era bastante distante do Centro. Num semáforo,
Marta tentou acariciar-lhe a mão. Ele recebeu a carícia
com indiferença; depois, buscou soltar-se para poder fazer
a marcha e arrancar.
Chegaram às duas da manhã. Victoria ainda não ha-
via voltado da festa. Na parede da sala de estar, estavam
penduradas as fotos de Victoria que Marta havia emoldurado.
Não eram boas, mas lhe agradavam. Sua filha na
bicicleta, correndo, pulando corda. Victoria, segundo
Antonio, era difícil de fotografar, apesar de bonita que
era. Bastava apontar-lhe a objetiva para que a beleza se
apagasse.
Marta voltou a cabeça buscando os olhos de Antonio.
Ele soltou a maçaneta e desviou o olhar para um canto
onde havia um porta-sombrinhas e um urso panda de
pelúcia. Ela caminhou os poucos passos que a separavam
de seu marido e o abraçou. Ali estava Marta para amá-lo,
sustentá-lo e cuidá-lo. Não chegava até ele a infinita promessa
desse abraço? Antonio se liberou suavemente para
inclinar-se e apagar a luz.
Marta foi até a cozinha e colocou uma chaleira sobre o fogão. Jogou um punhado de grãos de café no moedor.
— Feche a porta — disse ele.
— Por quê?
— Pelo barulho.
— E a quem incomodamos?
— Aos vizinhos.
Ela não lhe deu atenção e ligou o moedor. Antonio se
levantou e fechou a porta que separava a sala de estar dos
quartos. Logo, fechou a da cozinha. Nem o ruído do moedor
nem o apito da cafeteira lhe pareciam conhecidos.
Pareciam barulhos recentes, acabados de inventar.
— Faz quanto tempo que temos esse moedor?
— Foi um presente de casamento — disse ela.
— E essa chaleira que apita?
— Comprei outro dia no supermercado.
A xícara de café tinha espuma até a borda. Antonio
não gostava que o café tivesse espuma.
— Está sem açúcar — disse.
— Aqui está — disse ela, passando-lhe o açucareiro
e uma colher.
Ele serviu-se de um torrão de açúcar, provou e acabou
dando um largo gole. Assentiu com a cabeça. Ela
apoiou as mãos sobre a mesa.
— Não quer que falemos?
— Não — disse ele.
Ela baixou o olhar. Deu-lhe as costas para que ele não
notasse que lhe tremiam os lábios.
— Eu te quero muito, e também à Vicki — disse Antonio.
— Posso sentir isso — acentuou a palavra para que
não houvesse dúvida. — Mas algo está acontecendo comigo.
Parece que estou sobrando...
— Não entendo, amor — disse ela, e se sentou.
— É assim. É a impressão que tenho...
— Como você vai sobrar na sua própria casa? Ei,
olhe para mim quando falo com você.
Antonio levantou o olhar.
— Sou Marta, sua esposa...
Ele concordou em silêncio. Os olhos dela estavam
brilhantes. Havia levantado do assento e inclinado o corpo
em direção ao rosto de Antonio.
— Já sei — disse ele.
— Preciso de você ao meu lado. Como é que você vai
estar sobrando em sua casa? Que ideias são essas!
Antonio desviava o olhar e ela o buscava com os olhos.
— Amanhã, você vai ao psicólogo?
— Sim.
— Olha que tem que ir, hein?
— Claro.
Esperou que ele acrescentasse algo. Perguntou:
— E você pensa em tirar fotos também?
— Vou levar a câmera.
Antonio a olhou. Os olhos dela não acreditavam nele.
— Por via das dúvidas... — disse ele.
Marta tomou seu café. Uma chave deu volta na fechadura.
Antonio estendeu um braço e abriu um pouco
a porta da cozinha. Uma garota morena muito parecida
com Marta tentou esgueirar-se sigilosamente pelo corredor
que levava aos quartos.
— Eh! — gritou sua mãe.
— Ah! — disse ela, assomando-se. — Estavam acordados?
Aconteceu algo?
— Não — disse Antonio.
Victoria sorriu como nunca o fazia frente a uma câmera,
para depois começar a contar à mãe aos gritos:
— Você sabe com quem está saindo a Amanda?
Amanda era sua amiga íntima.
— Fernando — disse Marta.
— Não.
— Xavier.
— Frio.
— Marce.
— Geladíssima.
— Não sei.
— O irmão de Fernando!
— Não é muito velho?
— Tem trinta e dois. Amanda faz vinte em agosto.
Adivinhe o que ele lhe deu de presente a primeira vez em
que a convidou para sair.
— Me parece um rapaz muito velho... — Marta
olhou para Antonio, esperando que dissesse algo. Antonio
permaneceu calado.
— Adivinhe! — disse Victoria.
— Não me agrada que saiam com rapazes tão mais
velhos. Nem ao seu pai — insistiu Marta.
— Um ramo de rosas enorme! Não é de se apaixonar?
Marta voltou a olhar para Antonio. Ele disse:
— Sim, de se apavorar.
Victoria deu em Antonio um entusiasmado beijo na
bochecha, como se não houvesse percebido o jogo de palavras,
e saiu correndo da cozinha. Sua mãe apareceu no
corredor.
— E quem trouxe você? — perguntou.
— Fer.
— De carro?
— Claro, no que ia ser?
— Esse garoto já tem carteira?
— Faz tempo, mamãe.
Marta voltou à sua cadeira. Antonio disse simplesmente:
— Poderíamos dizer a ele que entrasse alguma vez.
— A Fer?
— Esse que ela nomeia.
Marta atirou o resto de seu café na pia sem se colocar
de pé.
— E quem tem que dizer isso? Eu?
— Você é a mãe, ora.
— Que entre o seu amigo na casa, quer dizer?
— Para que nos conheça, ao menos. Para ver como
ele é.
Marta resfolegou, angustiada.
— Só o que importa é que você vá ao psicólogo —
disse, mudando repentinamente de assunto.
— Não me parece má ideia saber com quem anda a
Vicki.
— Não te parece má ideia de que eu me inteire com
quem ela anda... E eu já me inteirei. Você vai faltar como
da última vez, não?
— A outra vez, não faltei. O psicólogo já havia saído.
— Porque você chegou tarde.
— Não.
— Me contou a secretária do doutor.
Marta cruzou os braços e se inclinou sobre eles.
— Dessa vez, vou chegar a tempo — disse Antonio.
Marta escondeu o rosto com as mãos, como que se
refugiando na escuridão.
— Você quer ir embora, não?
— De casa?
— Sim.
— Não — respondeu Antonio, com firmeza.
— Mas vai querer...
Ele se levantou para despejar o que sobrava do café
frio na pia.
— Há outra? — perguntou Marta.
— Não.
— Mentiroso.
— Te digo a verdade.
— Jure para mim.
— Já te jurei ontem.
— Jure de novo.
— Te juro.
O olhar de Antonio estava seco. Victoria apareceu
descalça e de camisola.
— E o xampu de calêndula?
— Vai tomar banho agora? — protestou Antonio. —
São três horas.
Victoria olhou a nuca de sua mãe. Depois, olhou para
ele e se arrependeu de haver voltado à cozinha.
— Estou com cheiro de cigarro no cabelo.
— Olhe no nosso banheiro, veja se está lá — disse
Marta.
Victoria saiu.
Antonio levou sua mão à cabeça da esposa para acariciá-
la. Disse, num sussurro, que não se preocupasse, que
tudo ia passar. Marta não levantou a cabeça, nem quando
lhe perguntou “o que você quer?” depois de um instante
de silêncio.
Ele não soube o que responder.
Capítulo 2
Para Antonio, fazer fotos de rua significava sair, subir
num ônibus, tomar o metrô. Caminhar por Florida, deter-
se na esquina de Corrientes. Mulheres, homens, crianças.
Taxistas, vendedores de globos, executivos, velhos,
promotoras, adolescentes, casais, cachorros. Um pássaro
sobre um fio de luz. Um avião cinza. Aquele bicho esmagado;
esses sapatos de salto alto; dois vagabundos embriagados;
quatro chineses olhando revistas. Uma tampinha
de Bidu Cola cravada no asfalto.
A poça refletiu a luz do céu com a câmera apontando
para cima, num exercício copiado do movimento dos
olhos para saber se realmente o céu flutuava sobre a poça.
Antonio estava seguro; a Antonio sobrava segurança. Movia-
se ao focar: nuvem, nuvem carregada; cúpula, cúpula
dourada, cúpula dourada com óxido verde, cúpula dourada
com óxido verde e um pálido reflexo de sol. Dois limpadores
de janelas almoçando pastéis num andaime, como
se não estivessem a trinta metros do piso, como se estivessem
num parque, de piquenique. Uma bandeira argentina ao lado de uma espanhola; a argentina suja, a outra, não.
Um empresário em seu escritório coçou o nariz enquanto
falava no celular; o dintel da porta do Banco da Província
de Buenos Aires, os ornamentos da madeira da porta. Fotos.
O reflexo de uma cabeça de mulher no vidro, o detalhe
do penteado atado em um maço. Um elástico amarelo com
que haviam dado três voltas sobre o cabelo; trancinha, clique.
Brincos de plástico, infantis, ainda que a menina não
fosse tão menina, cabelo castanho-escuro, clique, como os
de Marta, clique, os olhos abertos, redondos, não como os
de Marta, não: surpresos.
“Estou tirando fotos suas, sim?”. As trancinhas eram
duas, uma de cada lado da cabeça. Um elástico amarelo e
o outro verde. Teria uns trinta anos e cara de haver visto
um fantasma. Seu olhar gelado havia entrado pelo canhão
da câmera de Antonio, havia atravessado lentes e o aro do
diafragma. Por que fazia essa cara? Antonio hesitou com o
dedo sobre o disparador. Distanciou o olho do visor; quis
ver a garota diretamente. Os mecanismos de sua câmera
estavam à espera de que lhe voltasse a respiração. A câmera
tremeu porque tremiam as mãos que a sustinham.
Pelo meio, passavam carros, motos. Um ciclista vestido
de azul fosforescente. Semáforo. Luz vermelha. As pessoas
cruzavam, uma senhora gritou com seus dois filhos;
seguiu-a um grupo de yuppies com suas pastinhas, um
passeador de cães rodeado de animais, um policial. Semáforo
verde; mais carros. Por que esses olhos extraviados
em uma portenha escolhida ao azar entre todas as garotas
do Centro? Se sequer era demasiado bonita; se sequer ha-
via nela um grande garbo, nem um detalhe que a fizesse se sobressair, nem lhe ficava gracioso o suéter bordô que
vestia. Victoria era mais bonita, sem ir mais longe. O que
via Antonio nessa desconhecida para voltar a disparar-lhe
a máquina uma e outra vez, para insistir tanto em conseguir
seu retrato? Algo. Um detalhe no rosto. Uma marca
impossível de definir, mas que a diferenciava das outras
caras do dia. Havia nela um “olhe para mim”; ainda que
estivesse ofendida. Havia aberto a boca, tinha covinhas
nas bochechas; piscou, como se não pudesse acreditar: alguém
havia se atrevido a tirar-lhe uma foto. Não uma: um
monte. Com que permissão?
“Não sou um monstro, senhorita, não sou um ladrão;
apenas tiro fotos da rua, da gente na rua. É a única coisa
por que sinto um leve interesse; não me interprete mal,
tenho família, ainda que tampouco esteja demonstrando
um grande interesse por ela. O que sinto por essas fotos,
uma vez que as revelo e as vejo, se parece a um afeto media-
no, quase carinho. Não se trata de amor por você nem por
ninguém; o amor desapareceu da minha vida; minha única
paixão é este ruidinho, clique, o próximo que escute...”
Passavam mais carros, mais bicicletas, mais gente; um
caminhão frigorífico se deteve. Antonio já não viu a garota.
Viu seu próprio rosto refletido sobre a superfície do caminhão.
Seguia sendo o mesmo moreno de olhos negros,
de rasgos fortes. A idade lhe havia gasto algo da agudeza.
Os anos eram como o vento nas pedras, ou talvez fosse a
imprecisão do reflexo na chapa? Posou, como haveria feito
para a foto de outro. Posou para o espelho da fotografia.
Ali, em reflexo, estava o outro Antonio, o que acreditava
ser e que tinha a obrigação de ser para sair menos careca e menos cinquentão nas fotos. Encolheu a barriga, levantou o queixo, mas não sorriu. O sorriso lhe agregava anos. O caminhão arrancou, levando sua pose.
A garota havia partido. Com ela haviam ido as duas
trancinhas, uma com o elástico amarelo e outra com o
elástico verde (ou seriam da mesma cor?), o suéter bordô
de gola alta (ou seria um pulôver?), os brinquinhos de
plástico (ou seriam de metal?). Dentro da máquina estavam
os negativos para provar-lhe tudo.
Às vezes, Antonio tirava fotos porque os gestos das
pessoas lhe recordavam outros gestos anteriores, ou fotografava
lugares porque lhe parecia que já havia estado lá,
como em um déjà vu. Sua memória era uma armadilha, e
a fotografia, um atalho para burlá-la ou adentrar-se nela.
O que lhe havia agradado na garota? As trancinhas, claro.
Talvez a garota tivesse levantado muito cedo nessa manhã
com a decisão de fazer tranças no cabelo; parecidas com
as que tinha em sua foto dos dez anos, e que sua mamãe
penteava com tanta prolixidade. Como se o tempo não
houvesse passado. E no espelho desse dia não havia se enxergado
ridícula. Havia se enxergado mágica, renovada.
Havia visto a si mesma fazendo uma homenagem à sua
mãe. Depois, saiu.
Antonio de deteve a mirar outras coisas com o zoom.
Um lenço de uma senhora que parecia uma avó da Praça
de Maio, ainda que o lenço não fosse branco. Um entregador
de pizza de motoneta, com cara de estar pensando no
verão; a leveza na expressão de uma velha com as meias
puxadas para cima; um botequim vazio nas mãos de um
velho. Nada disso valia uma nova foto.
Caminhou até Córdoba. Perfis, pescoços, broches,
dentes, enfeites, fivelas. Resplandecentes, bronzeados,
amáveis em deixar-se fotografar. Todos eram objetos depois
que Antonio os fixasse em seus rolos de fotografia.
Imóveis, aparentes. Dignos de receber a eternidade. Carregou
a máquina novamente. Olhou o relógio sem que a hora
lhe importasse. Teve o desejo repentino de um café. Entrou
no primeiro bar que encontrou. Ali estava, outra vez, ela.
Sentada, desfazendo-se as trancinhas. Tirou o elástico
amarelo, manuseou o cabelo para dar-lhe forma, olhou-se
refletida no vidro. Antonio caminhou até o balcão. Apontou
para a garota com a teleobjetiva. Era a tomada de um
detalhe, a mão agitando aquele cabelo castanho, brincando
com ele como se fosse um mascote novo. A garota se
desfez da outra trança; no movimento, voltou a cabeça e o viu, ou talvez não, mas o olhar havia passado perto, pen-
sou Antonio, muito perto de sua câmera. A moça chamou
o garçom. Vestia um suéter, não um pulôver, e era vermelho,
mas não tão escuro como Antonio a recordava. Tinha
um brinco apenas, de plástico, verde e pequeno. Antonio
se apressou a fotografar. Depois, a garota fez um sinal em
direção ao balcão. Como explicar-lhe que eram pequenas
tomadas de seu rosto e não o rosto inteiro? Como dizer-
lhe que ninguém iria reconhecê-la por esses detalhes inconexos,
que era simplesmente arte, uma operação estética
que talvez jamais chegasse a uma sala de exposições?
Como dizer-lhe que lhe parecia uma modelo exótica, não
pela beleza, senão por algo que lhe passava ao vê-la, algo
que era uma cosquinha e que sem dúvida não era desejo,
porque ele já conhecia o desejo e isso era uma coisa nova, recém-chegada ao seu corpo e à sua cabeça? O desejo lhe
resultara um aborrecimento, um lugar de onde havia que
se mudar para poder seguir.
Percorreu o bar com os olhos. Aparentemente, não
estava molestando ninguém. Também olhou, sobre o seu
ombro, para o empregado do caixa, como que lhe pedindo
licença. O empregado não lhe devolveu o olhar. Que lhe
iriam importar umas poucas fotos. Antonio voltou a percorrer
todas as caras, uma por uma, a partir da sua máquina
de fotografar. O zoom lhe aproximava gestos, alguma piscadela,
uma gorjeta, um gole, um cenho. Dois elásticos, um
amarelo e outro verde, sobre uma mesa pegada à vidraça.
Antonio caminhou até a garota; o garçom deixava à
frente dela uma taça e um prato com três medialunas. Ela
agradeceu, pegou uma medialuna, partiu-a e molhou a
metade no café com leite. Esses lábios sem pintar eram
uma coisa digna de se ver. Mas não de se ver durante o
segundo da tomada, e sim mais e mais, pensou Antonio,
uma e outra vez, para sempre. A moça pegou um livro da
bolsa. Antonio focou a capa para ler o título, mesmo que
ainda precisasse estar mais próximo; agora sim: Boas cópias
e ampliações. Ou seja, ela também era fotógrafa, ou
lhe interessava a fotografia. Bem.
Antonio seguiu se aproximando. Pareceu-lhe que a
moça não posava, ainda que tampouco reagisse ao seu assédio.
Abriu o diafragma para que as pessoas que enxergava
através da vidraça ficassem esfumadas, como uma tela
de manchas cinzentas. Já estava a um passo de sua mesa.
“Tem uma cara para fotos sépia”, pensou.
Correu a cadeira sem pedir-lhe licença. Sentou-se na borda, como se não quisesse invadi-la por inteiro, entrando
devagar em seu desjejum, em seus olhos que observavam
os que passavam fora do bar e as pessoas de dentro também,
olhando-os, mas sem vê-lo a ele, a Antonio. Pegou de
sua bolsa um espelhinho e um pote de carmim. Examinou
seu rosto frente ao espelho; arrancou uma pestana. Antonio
não pôde vê-la porque estava trocando a lente por uma
de maior aproximação, e porque estava esperando que ela
lhe dissesse “deixe de me incomodar, por favor”. Mas não.
Ela pegou uma escova e ajeitou o cabelo solto. Moveu a
cabeça para um lado, para o outro; inclinou-se para frente
para ajeitar a franja. O som do disparador fez Antonio
saltar; ela não se moveu. Ele sacou-lhe uma foto do anel
com a letra L inscrita, um dos dentes apresando a ponta da
medialuna. Até que seu rosto saiu de foco. Viu-a ir-se rapidamente.
Tinha a pressa da moça do beijo de Doisneau.
Antonio viu que vestia calças e botinas; não havia
prestado atenção antes, na rua. A bolsa era grande, porque,
além dos cosméticos, levava um livro. “Talvez uma
câmera”, pensou Antonio. Mordeu a medialuna que sobrava
no prato. Disse a si mesmo que deveria ter se apresentado,
pedido licença. “Parece uma garota para transformar
em sépia. Não a senhorita, claro, mas sim sua imagem
em papel brilhante. Desculpe-me se a incomodei. Posso
mandar-lhe as cópias para algum endereço?”.
Ela teria pensado. Antonio lhe teria deixado seu telefone.
Por que uma foto em sépia? Para torná-la mais velha,
para convertê-la em uma antiguidade? Ela havia feito as
tranças justamente para conseguir o contrário. Em seu livro
Boas cópias e ampliações, que era dos anos 60, as moças eram altas e delgadas, tinham corpos atléticos e cabelos
luminosos. Conhecia esse livro. Ela usava tranças. Nenhuma
mulher do livro usava tranças.
Antonio saiu do bar.
“Sei que a incomodei e quero me desculpar. Ando brigado
com a vida. Não reconheço ninguém, não sei para onde
vou, não tenho recordações, não sei por que me rodeiam
os que me rodeiam, nem para quê. Estou perdido. Todas
as pessoas me parecem desconhecidas. Me sinto como vou
agora, caminhando na contramão do trânsito, e a vi igual,
ou senti que lhe passava algo como a mim, e que, na decisão
de fazer e desfazer as trancinhas do cabelo, havia não apenas
muitas fotos, mas algo existencial. Como quando se olha
uma paisagem e se diz ‘já estive aí’ sem nunca ter estado.”
Distinguiu, muitos metros adiante, um traço de cabelo,
uma botina. A cara dela apressada, olhando para trás.
Antonio chocava contra os ombros da gente que vinha em
outra direção, tropeçava nas lajotas frouxas, fotografava o
movimento com a câmera no alto, enquanto via outra perna
dela, “aí, aí!”, sair e entrar no quadro como em um filme.
Ela olhou para a esquerda, para direita. Não havia saída?
Antonio leu o horror em seus olhos e soltou a câmera, que
estirou a correia sobre seu pescoço. Estava aturdido entre
uma maré de corpos que o roçavam e o faziam cambalear.
Com vontade de dizer à garota “não se assuste; sou fotógrafo,
sou Antonio e hoje, pela primeira vez em meses, voltei
a me interessar pelo gênero humano. Quero que todas essas
fotos juntas revelem o milagre de vê-la. Que não sejam
quietas. Quero recuperá-la fugindo, íntegra, na bancada de
meu laboratório. Para poder estar de novo com você.”
"A Outra Praia"
Autor: Gustavo Nielsen
Tradutor: Henrique Schneider
Editora: Dublinense
Páginas: 176 páginas
Preço: versão impressa R$ 35
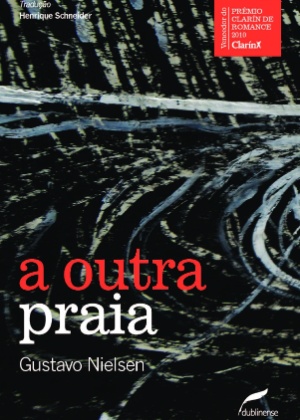












Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.