Leia trecho de "A Vida Invisível de Eurídice Gusmão", de Martha Batalha

Leia a seguir o início do primeiro capítulo de "A Vida Invisível de Eurídice Gusmão", de Martha Batalha, que sai pela Companhia das Letras em abril.
Quando Eurídice Gusmão se casou com Antenor Campelo as saudades que sentia da irmã já tinham se dissipado. Ela já era capaz de manter o sorriso quando ouvia algo engraçado, e podia ler duas páginas de um livro sem levantar a cabeça para pensar onde Guida estaria naquele momento. É verdade que continuava a busca, conferindo nas ruas os rostos femininos, e uma vez teve a certeza de ter visto Guida num bonde rumo a Vila Isabel. Depois essa certeza passou, como todas as outras que teve até então.
Por que Eurídice e Antenor se casaram ninguém sabe ao certo. Alguns acreditam que as bodas se consumaram porque José Salviano e Manuel da Costa já estavam comprometidos. Outros apontam a doença da tia de Antenor como responsável pela união, já que agora ela não podia mais lavar as roupas do sobrinho com o sabão especial de lavanda, ou preparar a canja de galinha com pedaços transparentes de cebola, porque se Nonô apreciava o gosto de cebola detestava a sua textura, sendo um único pedaço camuflado no feijão capaz de lhe deixar com engulhos e arrotos por uma longa tarde regada a Alka-Seltzer. Há ainda aqueles que acreditam que Eurídice e Antenor de fato se apaixonaram, e que essa paixão durou os três minutos de uma dança a dois num baile de máscaras do Clube Naval.
A questão é que se casaram, com igreja lotada e recepção na casa da noiva. Duzentos bolinhos de bacalhau, dois engradados de cerveja e uma garrafa de champanhe para o brinde na hora do bolo. Um vizinho professor de violino se ofereceu para tocar na festa. Cadeiras foram empurradas contra a parede, para
os casais dançarem uma valsa.
Não havia muitas moças na festa, porque Eurídice não tinha amigas. Havia duas tias não muito velhas, uma vizinha não muito vistosa, uma outra não muito simpática. A jovem mais bonita estava na imagem do único porta-retratos da sala.
“Quem é a moça da foto?”, perguntou um amigo do noivo.
Antenor cutucou o amigo, disse que aqueles não eram modos. O moço ficou sem graça, olhou para os lados, olhou para o copo na mão. Deixou a cerveja na mesa e foi para a outra ponta da sala.
Foi uma cerimônia simples, seguida por uma festa simples, e por uma lua de mel complicada. O lençol não ficou sujo, e Antenor se indignou.
“Por onde raios você andou?”
“Eu não andei por canto algum.”
“Ah, andou, mulher.”
“Não, não andei.”
“Não me venha com desculpas, você sabe muito bem o que deveríamos ter visto aqui.”
“Sim, eu sei, minha irmã me explicou.”
“Vagabunda. Eu me casei com uma vagabunda.”
“Não fale assim, Antenor.”
“Pois falo e repito. Vagabunda, vagabunda, vagabunda.”
Sozinha na cama, corpo escondido sob o cobertor, Eurídice chorava baixinho pelos vagabunda que ouviu, pelos vagabunda que a rua inteira ouviu. E porque tinha doído, primeiro entre as pernas e depois no coração.
Nas semanas seguintes a coisa acalmou, e Antenor achou que não precisava devolver a mulher. Ela sabia desaparecer com os pedaços de cebola, lavava e passava muito bem, falava pouco e tinha um traseiro bonito. Além do mais, o incidente da noite de núpcias serviu para deixá-lo mais alto, fazendo com que precisasse baixar a cabeça ao se dirigir à esposa. Lá de baixo Eurídice aceitava. Ela sempre achou que não valia muito. Ninguém vale muito quando diz ao moço do censo que no campo profissão ele deve escrever as palavras “Do lar”.
Cecília veio ao mundo nove meses e dois dias depois das bodas. Era uma bebê risonha e gordinha, recebida com festa pela família, que repetia: É linda!
Afonso veio ao mundo no ano seguinte. Era um bebê risonho e gordinho, recebido com festa pela família, que repetia: É homem!
Responsável pelo aumento de cem por cento do núcleo em menos de dois anos, Eurídice achou que era hora de se aposentar da parte física de seus deveres matrimoniais. Tentou explicar a decisão para Antenor, através de umas indisposições que passou a ter, nas horas soltas das manhãs de sábado e naqueles momentos
escuros, depois das nove da noite. Mas Antenor não queria saber de não me toques. Ele era um homem de hábitos e de rotinas, como aquela que envolvia achegar-se à camisola da mulher e afundar o nariz no macio do pescoço branco. Eurídice então se fez ouvir de outras formas. Ganhou um monte de quilos que
falavam por si, e gritavam para Antenor se afastar.
Ela emendava o café da manhã no lanche das dez, o almoço no lanche das quatro e o jantar na ceia das nove. Intervalos eram preenchidos com as sobras de papinhas e as provas de comida, para saber se tinha muito ou pouco sal, muito ou pouco açúcar, muito ou pouco gosto. Ganhou três queixos, essa Eurídice. Parece que seus olhos diminuíram, e seus cabelos não eram suficientes para emoldurar tantas feições. Quando viu que estava no ponto, que era o ponto de fazer o marido nunca mais se aproximar, adotou formas saudáveis de alimentação. Fazia dieta nas manhãs de segunda-feira e no intervalo entre as refeições.
O peso de Eurídice se estabilizou, bem como a rotina da família Gusmão Campelo. Antenor saía para o trabalho, os filhos saíam para a escola e Eurídice ficava em casa, moendo carne e remoendo os pensamentos estéreis que faziam da sua uma vida infeliz. Ela não tinha emprego, ela já tinha ido para a escola, e como preencher as horas do dia depois de arrumar as camas, regar as plantas, varrer a sala, lavar a roupa, temperar o feijão, refogar o arroz, preparar o suflê e fritar os bifes?
Porque Eurídice, vejam vocês, era uma mulher brilhante. Se lhe dessem cálculos elaborados ela projetaria pontes. Se lhe dessem um laboratório ela inventaria vacinas. Se lhe dessem páginas brancas ela escreveria clássicos. Mas o que lhe deram foram cuecas sujas, que Eurídice lavou muito rápido e muito bem,
sentando-se em seguida no sofá, olhando as unhas e pensando no que deveria pensar.
E foi assim que concluiu que não deveria pensar. Que para não pensar deveria se manter ocupada todas as horas do dia, e que a única atividade caseira que oferecia tal benefício era aquela que apresentava o dom de ser quase infinita em suas demandas diárias: a culinária. Eurídice jamais seria uma engenheira, nunca poria os pés num laboratório e não ousaria escrever versos, mas essa mulher se dedicou à única atividade permitida que tinha um certo quê de engenharia, ciência e poesia.
Todas as manhãs, depois de despertar, preparar, alimentar e se livrar do marido e dos filhos, Eurídice abria o livro de receitas da Tia Palmira. Pato com laranja parecia ser o jantar ideal, desde que tivesse que comprar o pato, e que em casa não houvesse laranjas. Ela colocava seu vestido de sair e ia ao aviário escolher um pato saudável. Aproveitava para escolher um frango, porque o pato deveria passar a noite imerso em vinho e especiarias, fazendo com que o jantar de hoje continuasse a ser um desafio e, nossa, ela precisava de desafios. O pato tinha que ser novo e gordo, o frango devia ter crista vermelha e peito carnudo. Na feira Eurídice levaria as laranjas para o dia seguinte, o coco para o bolo de fubá, as ameixas para o recheio do rosbife e a dúzia de bananas que alimentaria Afonso e Cecília, depois de revirarem o prato e dizerem “não gosto disto”.
De volta à casa ela prenderia o frango e o pato pelas pernas, cortaria os pescoços e se envolveria em outras tarefas enquanto o sangue dos animais escorresse na bacia. Pato e frango eram escaldados por dois minutos, as penas retiradas com o corpo ainda morno, um fogo de papel passado na superfície para queimar as
penugens. Tripas e moela, fígado e coração eram extraídos por um pequeno corte na barriga, para assar a ave sem cortes, ou através de um grande corte no meio do corpo, se o prato fosse servido em pedaços.
E havia os acompanhamentos. A batata nunca era só frita, mas frita por inteiro e recheada com queijo e presunto. Cozida e gratinada com creme de leite, cortada em fatias e batizada suíça. O arroz deixou de ser branco, recebendo passas, ervilhas e cenouras, molho de tomate, leite de coco ou qualquer outro ingrediente que Tia Palmira sugerisse em suas receitas. Quando sobrava um tempinho ela investia nas sobremesas. Manjares com calda de ameixa, cascata de ovos nevados, cocada com creme de queijo. Eurídice cozinhava até terminar de encher todas as travessas, e qualquer espaço livre na mesa da copa.
As proezas culinárias da moça não eram reconhecidas pela família. Afonso e Cecília passavam por um momento de Ode ao Macarrão e Antenor não era homem de se sensibilizar por um robalo com molho de alcaparra. Dá-me um talharim, diziam as crianças, dá-me um bom bife, dizia Antenor, e Eurídice voltava para a cozinha para esquentar a água do macarrão, e prometia a Antenor um filé-mignon sem cogumelos. Depois de uma ou duas noites de comida simples ela voltava para as receitas do livro, e todo mundo tinha que fingir que comia sarapatel, camarão na moranga, arroz de mariscos.
Quando já tinha testado todas as receitas Eurídice achou que era hora de criar seus próprios pratos. Aquela Tia Palmira sabia das coisas mas não sabia de tudo, e Eurídice desconfiava que o aipim com leite poderia cobrir a carne-seca, que a goiabada ficaria bem no frango à milanesa, que as farofas poderiam ter um quê desse tal de curry que ninguém conhecia. Numa quinta-eira pela manhã ela colocou seu vestido de sair e foi até a papelaria da esquina.
“Bom dia, d. Eurídice.”
“Bom dia, seu Antônio.”
“Procurando algo especial?”
“Um caderno grande e pautado.”
Seu Antônio apontou na estante a pilha de cadernos de capa dura e negra. Eurídice se entretinha com a escolha, e seu Antônio se entretinha com Eurídice. Talvez por ter passado a infância dormindo entre as carnes fartas da negra Chica de Jesus, responsável por criar Antônio e os irmãos enquanto a mãe frequentava os melhores salões do Rio, ele gostasse tanto das abundâncias de Eurídice. Gostava também dos olhos, do nariz arrebitado, das mãos pequeninas, da medalhinha no peito, dos tornozelos roliços e de qualquer outro lugar para onde olhasse.
Eurídice demorou-se na pilha. Aquele seria o caderno de suas receitas, precisava escolher o melhor entre os cadernos pautados. Folheou um, encontrou uma folha amassada e o devolveu para a pilha. Pegou outro, viu um sujinho na capa e desistiu. Analisou um terceiro e não encontrou defeitos. Ia entregar o eleito para Tinoco, o mulato que trabalhava desde sempre na papelaria, quando seu Antônio se adiantou para cuidar da cliente. Conversaram sobre o tempo enquanto Eurídice esperava pelo troco. Ela foi embora sem imaginar que seus comentários sobre a chuva seriam o ponto alto da semana para aquele homem.
No caminho de volta Eurídice cantarolava, feliz. Parou de cantarolar e ficou menos feliz quando ouviu um “bom dia, comadre!”.
Zélia, a vizinha da casa ao lado. Zélia era uma mulher de muitas frustrações. A maior delas era não ser o Espírito Santo, para tudo ver e tudo saber. Zélia estava na verdade mais para Lobo Mau do que para Espírito Santo, porque tinha olhos grandes para ver melhor, ouvidos grandes para ouvir melhor e uma boca muito grande, que distribuía entre os vizinhos as principais notícias do bairro. Zélia também tinha um pescoço de tartaruga, que parecia expandir-se por dentro da gola toda vez que alguém de seu interesse passava pela frente de casa. Aquela mulher era mais esquisita que um ornitorrinco, e um tipo como aquele só não causava mais estranheza porque Zélia era apenas uma entre tantas da mesma laia que habitavam aquele tempo e lugar.
“Precisando complementar o material escolar das crianças?”
Eurídice colocou o pacote junto ao peito, num gesto dúbio até para ela. Não sabia se estava protegendo o peito ou o pacote.
“Bom dia, comadre. Este é… um caderno para anotar as despesas da casa.”
No dia seguinte todas as mulheres da rua lamentavam o fato de Eurídice e Antenor estarem passando por dificuldades financeiras. Pudera, dizia Zélia. Eurídice não tinha limites em suas compras na mercearia, e como alguém podia ir tantas vezes às Casas Pedro em busca de especiarias? E que cheiros saíam daquela cozinha! Cheiros exóticos, que não faziam parte do feijão com arroz das outras casas. Aquela farra tinha que acabar.
Incapaz de ser o Espírito Santo Zélia contentou-se com uma função menor, e autoproclamou-se profeta. Suas observações empíricas geravam prognósticos precisos, que tinham como característica comum o fato de serem sombrios, porque Zélia conseguia ser pior do que Deus no Antigo Testamento. “Aquela ali vai levar o marido à bancarrota”, decretou, de queixo comprido.
A Vida Invisível de Eurídice Gusmão
Autora: Martha Batalha
Editora: Companhia das Letras
Páginas: 176
Quanto: R$ 39,90 (impresso); R$ 27,90 (e-book)
Lançamento: 12/4/2016

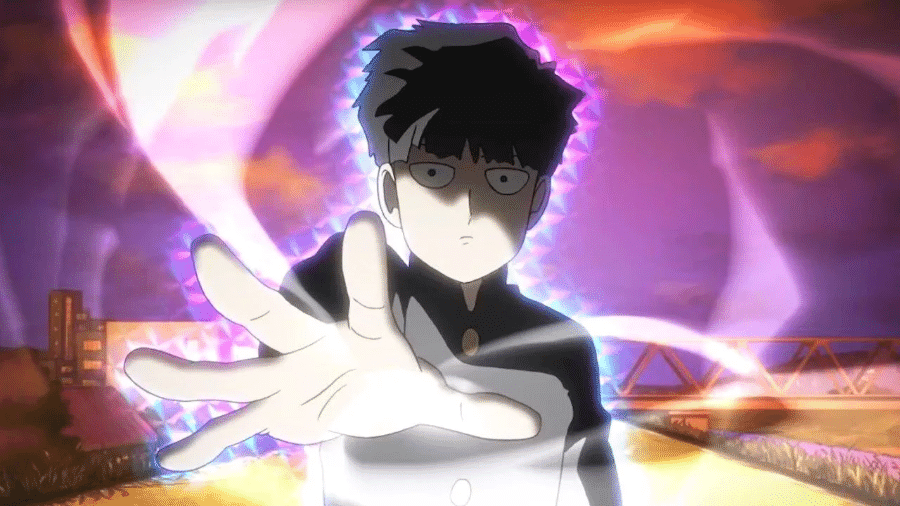

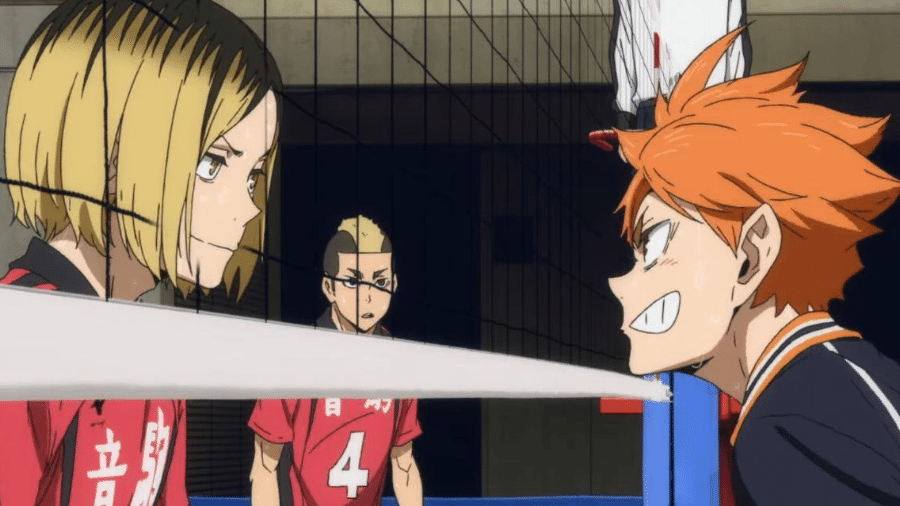






ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.